Diabolus in Musica
- História Medieval

- 9 de nov. de 2025
- 21 min de leitura

Ao longo da história da música ocidental, poucos intervalos sonoros carregaram um peso simbólico tão vasto quanto o trítono — o espaço tonal de três tons inteiros entre duas notas, ora classificado como quarta aumentada, ora como quinta diminuta. A designação latina Diabolus in Musica, “o diabo na música”, surgiu tardiamente, mas seu eco ressoou com força suficiente para criar uma das mais duradouras lendas da teoria musical: a de que, em tempos medievais, esse som teria sido proibido pela Igreja por sua natureza dissonante e perigosa à alma.
De fato, não há registro canônico de um édito eclesiástico que o banisse formalmente das composições sacras — como observa Richard Taruskin (2005), “o mito da interdição do trítono pertence mais à imaginação moderna do que à teologia medieval”. Contudo, a expressão diabolus in musica é autêntica em sua potência simbólica: ela traduz a sensação estética de um som que parece escapar à ordem divina, um ponto de instabilidade dentro da geometria perfeita da harmonia.
Na cosmologia cristã medieval, a música era mais do que arte: era reflexo da harmonia celeste. O ordo musicus espelhava o ordo universi, e cada consonância possuía correspondência espiritual. Nesse contexto, a dissonância representava uma fratura — uma sombra sobre a ordem divina. Assim, o trítono, situado precisamente entre os intervalos perfeitos da quarta e da quinta, soava como uma fenda, um desequilíbrio que desafiava a pureza do número e do som. É dessa tensão que nasce o epíteto demoníaco.
Arnold Schoenberg (1911) notou que “a essência da harmonia é o desejo pela resolução”, e o trítono, ao não se resolver facilmente, encarna o próprio desejo frustrado — um anseio que jamais encontra repouso. Essa instabilidade acústica, aliada ao imaginário cristão de luz e trevas, formou o terreno fértil para a construção do mito do “intervalo do diabo”.
Mas para compreender o diabolus in musica em sua totalidade — entre a ciência do som e o imaginário religioso — é necessário recuar às bases do pensamento musical ocidental: o sistema dos modos, o cantochão e o método dos hexacordos, desenvolvidos entre os séculos IX e XI. É nesse solo, e não na lenda, que repousa a verdadeira origem do trítono.
O trítono e sua definição técnica
Na teoria musical, o trítono é o intervalo formado por três tons inteiros, equivalente a seis semitons. Ele pode aparecer, por exemplo, entre o Fá e o Si natural (F–B), ou entre o Dó e o Fá sustenido (C–F♯). Em linguagem moderna, trata-se do intervalo que divide exatamente a oitava ao meio — um eixo sonoro que não pertence plenamente nem ao domínio da consonância nem ao da dissonância.
Walter Piston (1948) descreve o trítono como “o intervalo mais instável de todos, aquele que exige resolução imediata”. Essa exigência de movimento — a necessidade de fuga da tensão — é o que torna o trítono tão expressivo e, ao mesmo tempo, inquietante.
Tecnicamente, o trítono é simultaneamente a quarta aumentada (quando contado ascendentemente) e a quinta diminuta (quando contado descendentemente). Na prática do contraponto renascentista, era tratado com rigor: evitava-se sua formação melódica direta e, quando surgia, deveria ser resolvido por movimento contrário, geralmente em direção à consonância de terça ou sexta (Schoenberg, 1978).
Mas o que confere ao trítono sua aura peculiar não é apenas sua estrutura matemática — é a percepção auditiva que dele decorre. O ouvido humano, habituado às relações harmônicas de proporção simples (2:1 para a oitava, 3:2 para a quinta, 4:3 para a quarta), reage com desconforto ao trítono, cuja razão de frequência é de aproximadamente 45:32, uma relação “imperfeita” que destoa do ideal pitagórico de harmonia numérica.
Desde Pitágoras, a música era compreendida como expressão da matemática divina. A harmonia celeste era ordem numérica audível; logo, um intervalo que não se inscrevia nessas proporções “puras” soava quase como uma ofensa ao cosmos. Não é de espantar, portanto, que a teoria escolástica posterior — moldada pela lógica aristotélica e pela teologia tomista — visse na dissonância uma figura do desvio e da falta de proporção, conceitos que, na teologia moral, eram sinônimos do mal.
Richard Hoppin (1978) observa que o sistema de hexacordos de Guido d’Arezzo (século XI) já registrava o problema do trítono como uma dificuldade técnica: o intervalo entre o mi e o fa era naturalmente dissonante. Daí nasce o provérbio latino “mi contra fa est diabolus in musica” — não como condenação espiritual, mas como advertência pedagógica. O “diabo”, neste caso, é a armadilha que confunde o cantor e corrompe a afinação.
Gustave Reese (1940) reforça essa leitura: “o trítono não era o pecado da música, mas o seu tropeço natural; o perigo residia menos na heresia e mais no erro”. Ou seja, o diabolus de Guido é uma metáfora didática, não uma figura teológica. No ambiente monástico, onde a precisão melódica do canto gregoriano era fundamental para a liturgia, um deslize de meio tom podia comprometer todo o modo. O “diabo na música”, portanto, era o erro tonal — a fissura na ordem do canto sacro.
Willi Apel (1958) acrescenta que o problema era eminentemente prático: como o sistema medieval carecia de modulações e de sustenidos regulares, o trítono surgia quando se misturavam hexacordos durus (com si natural) e mollis (com si bemol). O cantor devia evitar essa transição abrupta, pois ela criava uma dissonância inesperada. O “diabo” era o encontro perigoso entre dois mundos modais.
A tradição posterior, no entanto, reinterpretou essa advertência técnica em chave simbólica. A partir do século XVII, com o desenvolvimento da harmonia tonal e a crescente autonomia das dissonâncias, o trítono passou a ser percebido como o som do “mal”, o “pecado acústico” que ameaçava a ordem harmônica.
Lawrence Kramer (2002) interpreta essa reconfiguração como típica do pensamento barroco, em que o contraste entre luz e trevas, graça e pecado, assumia também forma musical. A tensão sonora converteu-se em metáfora moral. Nesse contexto, o diabolus in musica deixou de ser apenas um erro melódico para se tornar um símbolo da transgressão — o som que desafia a norma, o intervalo que deseja o proibido.
Síntese parcial: O trítono nasce, portanto, não como maldição teológica, mas como desafio técnico dentro da teoria modal medieval. Com o passar dos séculos, a instabilidade acústica que o caracterizava converteu-se em símbolo moral e estético, ganhando força mítica à medida que a música ocidental desenvolvia sua gramática da tensão e da resolução.
O nascimento do mito: o trítono na música medieval
O diabolus in musica pertence antes à imaginação pedagógica do século XI do que à superstição demonológica. Para compreender o que de fato significava essa expressão, é necessário situá-la no contexto da teoria modal medieval, uma estrutura muito distinta da harmonia tonal moderna.
O universo dos modos e o cantochão
A música eclesiástica do período carolíngio e o canto gregoriano baseavam-se nos oito modos eclesiásticos, classificados conforme a tradição bizantina e teoricamente sistematizados por autores como Aurelianus Reomensis, Regino de Prüm e Guido d’Arezzo.Cada modo possuía uma finalis (nota de repouso) e uma dominante (nota recitativa). Esses centros tonais conferiam identidade e estabilidade à melodia. Dissonâncias diretas eram evitadas não por censura moral, mas por convenção sonora: buscava-se a fluidez do texto litúrgico, não o contraste harmônico.
Segundo Richard Hoppin (Medieval Music, 1978), a ênfase estava na pureza modal. O cantor era instruído a permanecer dentro de um hexacordo definido — natural, mollis ou durus — que organizava as notas em um intervalo de seis graus. A passagem entre hexacordos, quando feita de modo imprudente, produzia o trítono. Assim, dizia-se: mi contra fa est diabolus in musica, isto é, o encontro entre “mi” e “fa” fora de seu contexto era o “diabo” que destruía o modo.
Hoppin enfatiza que tal expressão não designava proibição eclesiástica, mas sim uma regra prática para evitar erros melódicos. O “diabo” era uma metáfora do perigo técnico, assim como hoje um mestre de contraponto diria que “essa voz deve fugir da tentação da quinta paralela”.
Willi Apel (Gregorian Chant, 1958) corrobora essa interpretação ao examinar manuscritos didáticos do século XI, nos quais a expressão aparece de forma incidental, nunca normativa. Ela servia ao ensino da solmização, isto é, da nomeação das notas por sílabas, antes da invenção da notação moderna. O diabolus surgia quando o cantor confundia as posições do B rotundum (si bemol) e do B quadratum (si natural), o que criava o trítono indesejado.
Guido d’Arezzo e a pedagogia do erro
O monge beneditino Guido d’Arezzo (c. 991–1033), autor do Micrologus, é central para entender essa passagem. Seu sistema dos hexacordos móveis e sua notação em linhas revolucionaram o ensino musical. Guido não demoniza o trítono: ele apenas o reconhece como intervalo dissonante e de difícil entoação, devendo ser resolvido com cautela.
Gustave Reese (Music in the Middle Ages, 1940) observa que “Guido menciona o problema de mi contra fa como um obstáculo prático, jamais como questão moral”. Ao contrário, sua abordagem demonstra um esforço racional e pedagógico: ao codificar a música em signos, Guido estava, de certo modo, “exorcizando o diabo” pela ciência.
Essa perspectiva é fundamental: o “diabo na música” nasce no contexto monástico de ensino — um diabo didático, não teológico. O medo não era espiritual, mas técnico. No ambiente de claustro, onde o canto era parte da liturgia das horas, um erro melódico era uma quebra de ordem. O trítono tornava-se, portanto, símbolo sonoro do desvio da regra — e é justamente nesse ponto que a metáfora demoníaca se ancora: o “diabo” é o agente do desvio, aquele que corrompe a harmonia do cosmos.
3. A inexistência de uma proibição eclesiástica
É recorrente o mito de que a Igreja teria proibido o trítono por decreto. Taruskin (Oxford History of Western Music, 2005) desmonta essa ideia com clareza: “não existe evidência de qualquer proibição formal do trítono em textos teóricos ou conciliares medievais”. Margaret Bent, em seu artigo The Grammar of Early Music (2006), reforça que o uso do trítono era apenas regulado por convenções de contraponto: “os tratados de prática musical descrevem a dissonância, mas não a condenam; tratam-na como fenômeno natural a ser resolvido dentro do discurso musical”.
No século XIII, quando surgiram os tratados de contraponto mensural, a dissonância passou a ter papel construtivo na tensão e resolução das linhas vocais. O trítono, antes evitado melodicamente, começou a ser aceito em contextos controlados, especialmente como passagem ou ornamentação.
Assim, o mito da proibição pertence à era moderna, não à medieval. Ele nasceu da leitura romântica de um passado “obscurantista”, no qual se supunha que qualquer elemento inquietante seria censurado pela Igreja. Na verdade, a cultura musical monástica era notavelmente lógica e empírica: compreendia o som como matemática divina, não como campo da superstição.
O simbolismo do erro e a sombra da dissonância
Ainda assim, o caráter simbólico do trítono não pode ser reduzido à técnica. Mesmo sem ser formalmente condenado, o intervalo carregava uma aura de perigo. Na mentalidade cristã, tudo o que fugia da ordem — da proporção e da simetria — era visto com cautela.O número três, associado à Trindade, era perfeito; o quatro, à matéria; o cinco, à união entre ambos. O trítono, ao dividir a oitava de maneira desigual, subvertia essa numerologia sagrada. O intervalo tornava-se uma anomalia mística, um espaço sem correspondência simbólica.
Nesse sentido, o diabolus in musica não é apenas uma expressão técnica, mas também um espelho da cosmovisão medieval: um som que, por não se encaixar na harmonia divina, parecia pertencer ao domínio do caos. O teólogo e músico boêmio Marchetto de Pádua (século XIV) escreveu que “a dissonância é o movimento do espírito inquieto que anseia por resolução” — quase uma formulação musical do pecado original.
Entre o sagrado e o profano: estética e simbolismo
Se o trítono nasceu como um problema de solmização, ele se transformou, ao longo dos séculos, em símbolo estético da transgressão. Sua história é também a história do modo como a cultura ocidental lidou com a dissonância — ora temendo-a como ameaça à ordem, ora abraçando-a como motor da expressão.
A dissonância como metáfora do mal
A associação entre dissonância e mal remonta à própria teologia do som. Para Santo Agostinho, em suas Confissões (Livro X, cap. 33), a beleza da música estava na proporção e na harmonia, reflexos da ordem divina. A dissonância, por sua vez, seria a “contradição do número”, imagem sensível do pecado.Esse pensamento foi herdado pelos teóricos escolásticos. Boécio, no De Institutione Musica, já distinguia entre a “música mundana” (a harmonia do cosmos) e a “música humana” (a alma racional). O trítono, em sua desordem aparente, rompia a correspondência entre ambas.
Lawrence Kramer (Musical Meaning, 2002) interpreta esse vínculo como o início de uma estética da tensão moral. A dissonância passa a ser mais do que um fenômeno acústico — é uma experiência emocional e espiritual. O trítono, ao provocar desconforto, corporifica a sensação da queda, do desequilíbrio e da necessidade de redenção. É o som do exílio.
O Barroco e o nascimento da emoção musical
Durante o Renascimento e o início do Barroco, essa visão ganha nova roupagem. A teoria dos afetos musicais (Affektenlehre) permitia que a música expressasse emoções humanas, incluindo o medo, a dor e o desespero. O trítono, com sua tensão intrínseca, tornou-se recurso ideal para evocar tais sentimentos.
Malcolm Boyd (Religious Music of the Baroque Era, 1997) demonstra como compositores como Claudio Monteverdi e Heinrich Schütz usaram intervalos dissonantes para expressar sofrimento e conflito espiritual. A dissonância deixa de ser tabu e torna-se ferramenta retórica. A Igreja, longe de condenar tais práticas, incorporou-as às suas próprias expressões dramáticas, como os motetos e oratórios da Contrarreforma.
O “diabo na música” agora era teatralizado — um símbolo sonoro da angústia humana diante do divino. O trítono ecoava nas representações do Inferno, nas lamentações de Cristo ou nas súplicas de pecadores. A dissonância tornava-se o som da alma em agonia.
Richard Taruskin (2005) observa que “o Barroco consagrou aquilo que o Medievo apenas temera: a beleza da tensão”. Essa estética do conflito, própria do espírito pós-tridentino, ressignificou o trítono. O intervalo outrora evitado passou a representar a dialética entre luz e trevas, graça e culpa — em suma, o drama humano.
A transição do mito à modernidade
Ao longo do século XVIII, com o florescimento do sistema tonal, o trítono perdeu parte de sua aura demoníaca. Tornou-se elemento essencial da dominante com sétima, núcleo da harmonia tonal. O que antes era dissonância “proibida” agora sustentava toda a gramática do repouso e da resolução.
Walter Piston (1948) nota que “a função do trítono é estrutural: ele gera o movimento que define a tonalidade”. É a contradição mais irônica da história musical — o “diabo” converte-se em pilar da harmonia clássica.Ainda assim, o imaginário simbólico persistiu. Mesmo no século XIX, compositores como Liszt e Berlioz exploraram o trítono para evocar o sobrenatural e o demoníaco, ecoando o antigo mito pedagógico. O “diabo na música” continuava vivo, agora como metáfora romântica da rebeldia artística.
Kramer (2002) interpreta essa permanência como prova de que o Diabolus in Musica transcendeu o domínio da teoria: tornou-se símbolo cultural da transgressão, a “nota que desafia Deus” — não porque fosse realmente proibida, mas porque representava o prazer estético de romper o limite.
Síntese parcial
O Diabolus in Musica não foi um decreto de censura, mas uma ideia pedagógica medieval que se transformou em mito simbólico. Seu poder reside na tensão entre razão e instinto, fé e arte, norma e ruptura. A Igreja jamais o interditou, mas a cultura ocidental projetou nele suas próprias angústias morais e estéticas. O trítono é o som da imperfeição humana, o eco do pecado original em forma de vibração.
Da penitência à expressão: a integração do trítono entre o Renascimento e o Romantismo
O destino do diabolus in musica no Renascimento é o de uma lenta absolvição. O som que outrora simbolizava o erro técnico e a inquietude espiritual começa a ser incorporado, gradualmente, como recurso expressivo legítimo. A música renascentista, herdeira da racionalidade medieval e precursora do drama barroco, transformou o “intervalo proibido” em instrumento de beleza e emoção.
O Renascimento e a liberdade controlada
Durante os séculos XV e XVI, a polifonia atingiu um nível de sofisticação sem precedentes. Compositores como Josquin des Prez, Palestrina e Lassus cultivaram uma estética de clareza e equilíbrio. Ainda assim, mesmo nesse ambiente de ordem, o trítono não desapareceu — ele foi domesticado.
Segundo Richard Taruskin (The Oxford History of Western Music, 2005), o trítono “deixa de ser um fantasma e torna-se uma ferramenta retórica”: uma dissonância controlada que gera movimento. Nos tratados de contraponto de Johannes Tinctoris (1477) e Gioseffo Zarlino (1558), o trítono aparece classificado entre as “dissonâncias de passagem” — sons permitidos quando resolvidos adequadamente.
Zarlino, em seu Le Istitutioni Harmoniche, descreve-o como um intervalo “áspero e duro”, mas necessário à suavidade do todo. É uma afirmação de enorme alcance filosófico: o dissonante torna-se condição da harmonia. A música renascentista, moldada pela razão humanista, redime o “diabo” pela estética da proporção.
Margaret Bent (2006) observa que essa transição reflete o próprio espírito do Renascimento: a reconciliação entre razão e emoção. O trítono, antes símbolo do caos, passa a representar o movimento interno da alma, a inquietude da beleza imperfeita. Ele se torna metáfora sonora da humanidade — racional, mas falível.
O Barroco: dissonância como pathos
Com o Barroco (séculos XVII e XVIII), o trítono abandona definitivamente o claustro monástico para adentrar o teatro. O advento da monodia acompanhada e do baixo contínuo introduziu novas possibilidades expressivas: a música não mais imitava o equilíbrio do cosmos, mas o turbilhão das paixões humanas.
Arnold Schoenberg (Theory of Harmony, 1911) via nesse período o nascimento da “tensão harmônica como linguagem”. O trítono, que antes precisava ser escondido, agora era exibido — um som de pathos, destinado a comover.Nos madrigais de Monteverdi, dissonâncias deliberadas — incluindo trítonos — ilustram palavras como morte, pianto e inferno. Em sua Orfeo (1607), o trítono aparece nas passagens que descrevem a travessia ao mundo subterrâneo: a própria descida de Orfeu ecoa em intervalos “diabólicos”.
Malcolm Boyd (Religious Music of the Baroque Era, 1997) nota que a teologia pós-tridentina via na música um poder catequético: despertar emoções para conduzir à fé. Assim, o som dissonante não era condenado, mas santificado por seu fim devocional. O diabolus tornava-se instrumento da graça.
Nos coros de Heinrich Schütz, nas paixões de Bach e nos oratórios de Händel, o trítono surge em momentos de dor e súplica. Em Christus, der uns selig macht, de Bach, o encontro entre Fá e Si natural acompanha o verso “Ele gemeu em agonia” — uma escolha que transforma o intervalo outrora suspeito em expressão sublime da compaixão.
O Classicismo: da suspeita à estrutura
No século XVIII, com a consolidação do sistema tonal, o trítono tornou-se elemento estrutural da harmonia. Ele é o núcleo da dominante com sétima — a base do movimento tensão/resolução que define a tonalidade clássica. Walter Piston (Harmony, 1948) sintetiza: “sem o trítono, não haveria tonalidade”. De fato, entre a terça e a sétima do acorde dominante (por exemplo, em Sol7: Si–Fá), o trítono cria a força direcional que conduz à tônica.
A ironia histórica é evidente: o som que fora temido tornou-se pedra angular da música ocidental. O diabo converte-se em fundamento da ordem. O Classicismo de Haydn e Mozart faz da dissonância um servo disciplinado. O trítono já não é um escândalo, mas uma lei.
O Romantismo: o retorno do “demoníaco”
Entretanto, o século XIX reacendeu o imaginário espiritual do Diabolus in Musica. O Romantismo, com sua fascinação pelo sobrenatural, reencontrou no trítono um símbolo perfeito para o conflito entre o humano e o divino.
Franz Liszt explorou o intervalo obsessivamente em suas obras de temática infernal, como Mephisto Waltz e Totentanz. No prefácio de suas peças “demoníacas”, Liszt afirmava que “a dissonância é o fogo pelo qual o espírito é provado”.Taruskin (2005) observa que, em Liszt, o trítono não é mais erro ou função harmônica — é identidade temática. Ele encarna Mefistófeles, a provocação sonora do mal.
Hector Berlioz, em sua Symphonie Fantastique (1830), utiliza trítonos nas seções que retratam o Sabbath das bruxas. Ali, o intervalo não apenas evoca o mal, mas o teatraliza — o “diabo” torna-se espetáculo.
Lawrence Kramer (2002) interpreta o trítono romântico como metáfora de “liminaridade”: a fronteira entre o divino e o profano, o racional e o irracional. É o som que anuncia o abismo, mas também o fascínio que ele exerce. No Romantismo, o Diabolus in Musica é o símbolo da beleza perigosa — o som do excesso que seduz.
O século XX e a apoteose do intervalo maldito
O século XX herdou o trítono já redimido. Agora, ele não é mais o “diabo na música”, mas a própria música do diabo — o som que define o moderno. Da vanguarda erudita ao jazz e ao heavy metal, o trítono foi entronizado como emblema da dissonância criativa.
A libertação da tonalidade
Com Schoenberg e a Escola de Viena, a tonalidade clássica foi dissolvida. A dissonância, antes subordinada à resolução, passou a ser autônoma. O trítono, centro da antiga tensão tonal, transformou-se em ponto de partida para novas linguagens.
Em Theory of Harmony (1911), Schoenberg descreve o trítono como “o germe da emancipação da dissonância”. Sua instabilidade, que antes clamava por repouso, agora é celebrada como energia pura. O Diabolus deixa de ser metáfora moral e torna-se princípio estético: o prazer da instabilidade.
Compositores como Stravinsky, Bartók e Debussy incorporaram o trítono em estruturas modais e simétricas, explorando sua ambiguidade tonal. Em Petrushka (1911), Stravinsky faz do trítono (C–F♯) o intervalo simbólico do protagonista, dividido entre humanidade e artifício — eco distante da dualidade “divino/demoníaco”.
O trítono no jazz e na cultura moderna
A linguagem jazzística do início do século XX redescobriu o trítono como motor de tensão harmônica. O chamado tritone substitution (substituição de trítono) é técnica clássica no jazz: trocar o acorde dominante por outro distante meio tom, aproveitando o mesmo intervalo central (Piston, 1948).
Essa prática confere ao jazz seu caráter flutuante e sofisticado. Paradoxalmente, a música mais livre do século XX baseia-se no mesmo “diabo” que a Idade Média temera.Fred Lerdahl e Ray Jackendoff (A Generative Theory of Tonal Music, 1983) explicam que o trítono ativa o “máximo nível de tensão cognitiva”, o que justifica sua eficácia emocional tanto no jazz quanto no cinema.
O som do mal: cinema e imaginação popular
A partir da década de 1940, o trítono consolidou-se como signo sonoro do mal na cultura de massas. Trilhas de filmes de terror e suspense — de Psycho (Hitchcock, 1960) a The Exorcist (1973) — utilizam o intervalo para criar desconforto.Božena Čiurlionienė (Prohibition versus Apotheosis of the Tritone, 2021) descreve essa apropriação como “a apoteose cultural do interdito”: o som que um dia fora evitado converte-se em clichê da malignidade.
Essa associação, contudo, é mais estética que teológica. O público moderno não acredita literalmente em um “diabo na música”, mas reconhece o trítono como símbolo auditivo do mal. Ele é o eco de um medo antigo, ressignificado pela psicoacústica contemporânea.
4. Heavy metal e a herança simbólica
Entre todas as formas musicais modernas, nenhuma abraçou tanto o trítono quanto o heavy metal. Robert Walser (Running with the Devil, 1993) analisa como bandas como Black Sabbath, Slayer e Metallica transformaram o intervalo em marca identitária.A faixa Black Sabbath (1970), com seu riff inicial baseado em um trítono (Sol–Dó♯), é o exemplo mais célebre: um som lento, sombrio e ritualístico. Tony Iommi, seu criador, afirmou certa vez que buscava “um som que parecesse invocar algo proibido”.
Walser argumenta que o trítono no metal não é apenas efeito harmônico, mas gesto cultural: a reafirmação da rebeldia contra a ordem. Ao empregar o intervalo “maldito”, o metal retoma, inconscientemente, a tensão medieval entre o som e o sagrado.O Diabolus in Musica deixa de ser mito para tornar-se identidade estética.
Slayer, em 1998, batizou um álbum inteiro com o nome Diabolus in Musica — uma homenagem explícita à lenda. A escolha não é irônica: é a celebração do som que foi censurado, agora empunhado como bandeira de liberdade.
Kramer (2002) observa que “o século XX transforma o mal em metáfora de autenticidade”. O trítono, símbolo do proibido, torna-se o som da verdade emocional: aquilo que se recusa a ser domesticado.
O trítono e a psicoacústica do desconforto
Por trás da mitologia, há também ciência. Estudos de percepção auditiva (Lerdahl & Jackendoff, 1983) demonstram que o trítono ativa áreas cerebrais associadas à tensão e alerta. Ele é instável não apenas culturalmente, mas fisiologicamente: o ouvido humano tende a buscar resolução, e o trítono nega esse repouso.Čiurlionienė (2021) interpreta essa reação como “eco moderno da teologia medieval”: o corpo ainda reconhece, instintivamente, o som que desafia a ordem.
Entre o Renascimento e a modernidade, o Diabolus in Musica percorreu uma trajetória paradoxal:
De erro técnico (Guido d’Arezzo) → a expressão retórica (Monteverdi e Bach) → a estrutura harmônica (Mozart) → o símbolo demoníaco e libertário (Liszt, Berlioz, metal).
O intervalo que um dia simbolizou o mal tornou-se símbolo da liberdade artística. Como diz Taruskin (2005), “a história da música é a história da domesticação do diabo — e o trítono é sua voz”.
O Diabo na Percepção: psicoacústica e simbolismo contemporâneo
O trítono sobreviveu não apenas como relíquia teórica, mas como fenômeno psíquico. Sua força atravessa os séculos porque toca algo profundo na experiência humana do som: o desconforto diante do desequilíbrio.
A neurociência moderna, sem pretensão teológica, confirma o que os monges medievais intuíram pela sensibilidade espiritual — há algo no trítono que perturba o ouvido, um desequilíbrio inerente que o cérebro tenta corrigir.
A natureza ambígua da dissonância
Fred Lerdahl e Ray Jackendoff, em A Generative Theory of Tonal Music (1983), demonstram que o sistema auditivo humano busca padrões previsíveis de tensão e resolução. Quando um intervalo rompe essa expectativa, o cérebro experimenta o que chamam de “tensão cognitiva não resolvida”. O trítono, dividido exatamente ao meio da oitava, frustra essa busca por simetria, gerando sensação de flutuação e instabilidade.
Essa reação é fisiológica e universal. O ouvido humano interpreta proporções simples — como 2:1 (oitava), 3:2 (quinta), 4:3 (quarta) — como estáveis, mas o trítono, com razão de 45:32, não possui correspondência numérica simples. Por isso, sua vibração soa “impura”.
Arnold Schoenberg (1911) já sugerira que a dissonância não é inimiga da beleza, mas o motor do movimento musical. A tensão, quando compreendida, torna-se prazerosa; é o princípio psicológico da “resolução esperada”. Assim, o trítono habita o limiar entre o incômodo e o fascínio — o mesmo terreno em que se move o mito do mal.
A psicoacústica do medo
Božena Čiurlionienė, em seu estudo Prohibition versus Apotheosis of the Tritone (2021), propõe que a associação entre o trítono e o medo é duplamente construída: por condicionamento cultural e por resposta biológica. O som, ao escapar das proporções harmônicas, provoca um estado de alerta. Esse desconforto é fisiológico, mas a cultura ocidental o revestiu de significado demoníaco.
Em outras palavras, o corpo sente o “mal” antes que a mente o conceitue. O diabolus in musica é, nesse sentido, uma metáfora arquetípica da desordem. O intervalo traduz em som o que o ser humano teme no mundo: o imprevisível, o indomável, o caos.
O retorno do símbolo
No século XXI, o trítono reaparece em contextos surpreendentes — não apenas em heavy metal ou trilhas de terror, mas em música erudita contemporânea, jogos digitais, trilhas cinematográficas épicas e até música litúrgica moderna.
Richard Taruskin (2005) observa que a “dissonância tornou-se moralmente neutra”, mas continua carregada de valor expressivo. Assim, mesmo sem crença literal em demônios, o público ainda associa o trítono à ideia de mal ou perigo. Essa persistência comprova a força simbólica da linguagem musical.
O trítono é, portanto, o arquetípico som da transgressão — não porque seja proibido, mas porque evoca o sentimento do proibido.Lawrence Kramer (2002) sintetiza essa ideia ao afirmar que “a música, como o mito, conserva o poder de dizer o indizível”. O trítono, ao representar a tensão insolúvel, torna-se a voz sonora do conflito interior — o eco moderno da tentação e da queda.
Do mito ao símbolo cultural
Hoje, o Diabolus in Musica ultrapassa o domínio técnico e habita o imaginário popular. Ele é citado em filmes, memes, álbuns e teorias conspiratórias — quase sempre como eco de uma sabedoria ancestral.Robert Walser (1993) vê nisso um paradoxo fascinante: “o mesmo som que hoje entretém multidões foi um dia sinônimo de heresia”. A história do trítono reflete a evolução do próprio Ocidente: da obediência à ordem à celebração da dúvida.
Em suma, o diabolus in musica tornou-se um mito de autoconhecimento. O mal que ele representa não é externo, mas interno — a necessidade humana de experimentar o limite da harmonia para compreender a beleza da resolução.
Conclusão
A trajetória do Diabolus in Musica é a parábola sonora da civilização ocidental. O intervalo que começou como advertência técnica no claustro beneditino percorreu mil anos de história, espelhando a mudança das relações entre ordem e liberdade, fé e razão, som e emoção.
O mito e sua verdade
Historicamente, a Igreja nunca proibiu o trítono. O que existiu foi a consciência de sua dissonância natural e o cuidado pedagógico em evitá-lo. Mas a linguagem simbólica do Cristianismo transformou essa precaução em mito.Atribuir o “diabo” à música não foi uma superstição ingênua — foi uma forma metafórica de reconhecer que, mesmo dentro da ordem divina, há espaço para o erro e a dúvida. O trítono é o som do livre-arbítrio: a possibilidade de escolher o caminho incerto.
A dialética da dissonância
Do ponto de vista estético, o trítono revela o paradoxo essencial da arte: a beleza nasce do conflito. Sem dissonância, não há movimento; sem tensão, não há catarse.Schoenberg e Piston demonstraram que a harmonia tonal é sustentada justamente pela presença do trítono — ele é o eixo da resolução. Assim, o que antes fora demonizado tornou-se fundamento da ordem musical.
Esse percurso espelha o caminho da própria cultura ocidental: o “diabo” domesticado, a desarmonia transformada em princípio criador. Taruskin (2005) comenta que “a história da música é a história de como aprendemos a amar o que antes temíamos”.
O trítono como metáfora da condição humana
Mais que conceito teórico, o Diabolus in Musica tornou-se metáfora da condição humana. Entre a perfeição divina da oitava e o equilíbrio da quinta, ele é o som da queda, mas também o da aspiração. Representa o espaço em que o humano, imperfeito e ambíguo, encontra sua voz.
Como observou Kramer (2002), “a música é a gramática da emoção moral”. O trítono fala das nossas contradições — o desejo de ordem e o fascínio pelo caos. Ele é o abismo sonoro que separa o bem do mal, mas também a ponte que os une.
A permanência do mito
Mesmo no mundo secularizado, o nome Diabolus in Musica conserva um poder quase ritual. De Guido d’Arezzo a Slayer, o intervalo atravessou eras e estilos, permanecendo símbolo do desafio à norma.Božena Čiurlionienė (2021) define-o como “paradoxo histórico”: um som rejeitado por ser perigoso e venerado por ser sublime. Essa ambiguidade é o que garante sua imortalidade.
O trítono não pertence ao diabo — pertence à humanidade. É o reflexo acústico da nossa liberdade criadora, do direito de dissonar, de não se conformar. Em última análise, o Diabolus in Musica é o som da busca pelo sentido — o grito harmônico do espírito entre a queda e a redenção.
Fontes
APEL, Willi. Gregorian Chant. Bloomington: Indiana University Press, 1958.
BENT, Margaret. “The Grammar of Early Music.” Journal of the American Musicological Society, v. 59, n. 1, 2006, p. 105-158.
BOECIUS. De Institutione Musica. Trad. Calvin M. Bower. New Haven: Yale University Press, 1989 [século VI].
BOYD, Malcolm. Religious Music of the Baroque Era. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
ČIURLIONIENĖ, Božena. Prohibition versus Apotheosis of the Tritone: A Historical Perspective. Kaunas: Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2021.
HOPPIN, Richard. Medieval Music. New York: W. W. Norton & Company, 1978.
KRAMER, Lawrence. Musical Meaning: Toward a Critical History. Berkeley: University of California Press, 2002.
LERDAHL, Fred; JACKENDOFF, Ray. A Generative Theory of Tonal Music. Cambridge: MIT Press, 1983.
PISTON, Walter. Harmony. New York: W. W. Norton & Company, 1948.
REESE, Gustave. Music in the Middle Ages. New York: W. W. Norton & Company, 1940.
SCHOENBERG, Arnold. Theory of Harmony. Berkeley: University of California Press, 1978 [1911].
TARUSKIN, Richard. The Oxford History of Western Music. Vols. I-II. Oxford: Oxford University Press, 2005.
WALSER, Robert. Running with the Devil: Power, Gender, and Madness in Heavy Metal Music. Middletown: Wesleyan University Press, 1993.

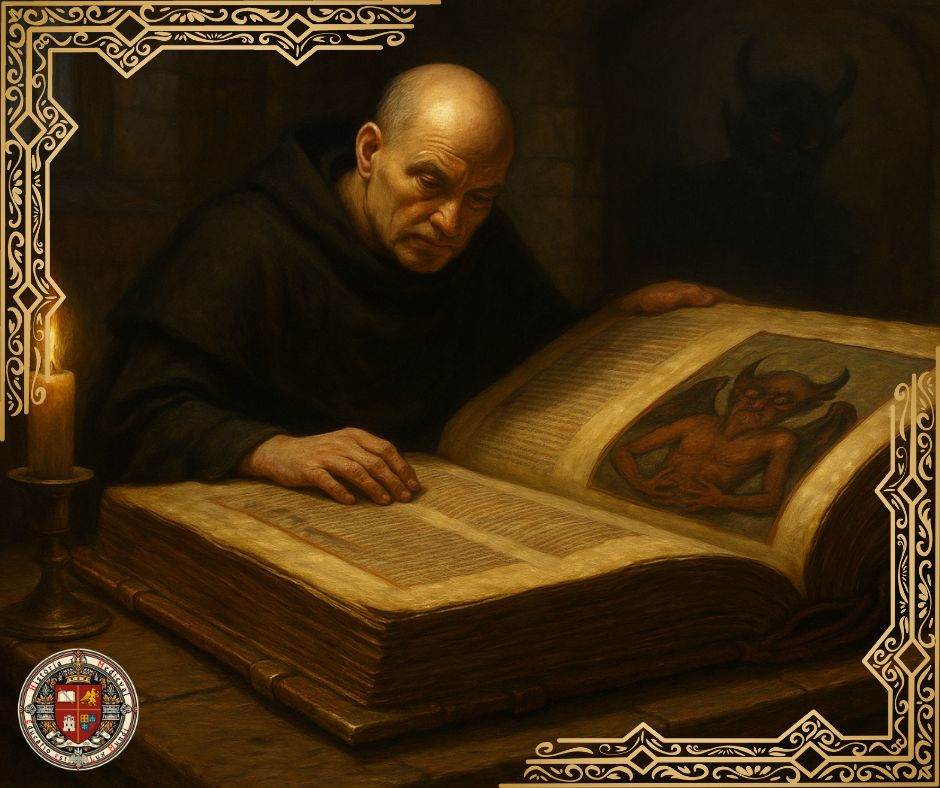


Comentários